
Qualidade de vacinas, conspiração e política. Por Natalia Pasternak e Carlos Orsi
… a Anvisa não pode liberar uma vacina que contém um componente não testado, para o qual não podemos atestar segurança. Não sabemos quais efeitos uma vacina de vírus replicante pode ter no organismo. Pode ser perfeitamente segura, mas também pode não ser. Só saberemos testando, como testamos todas as outras…
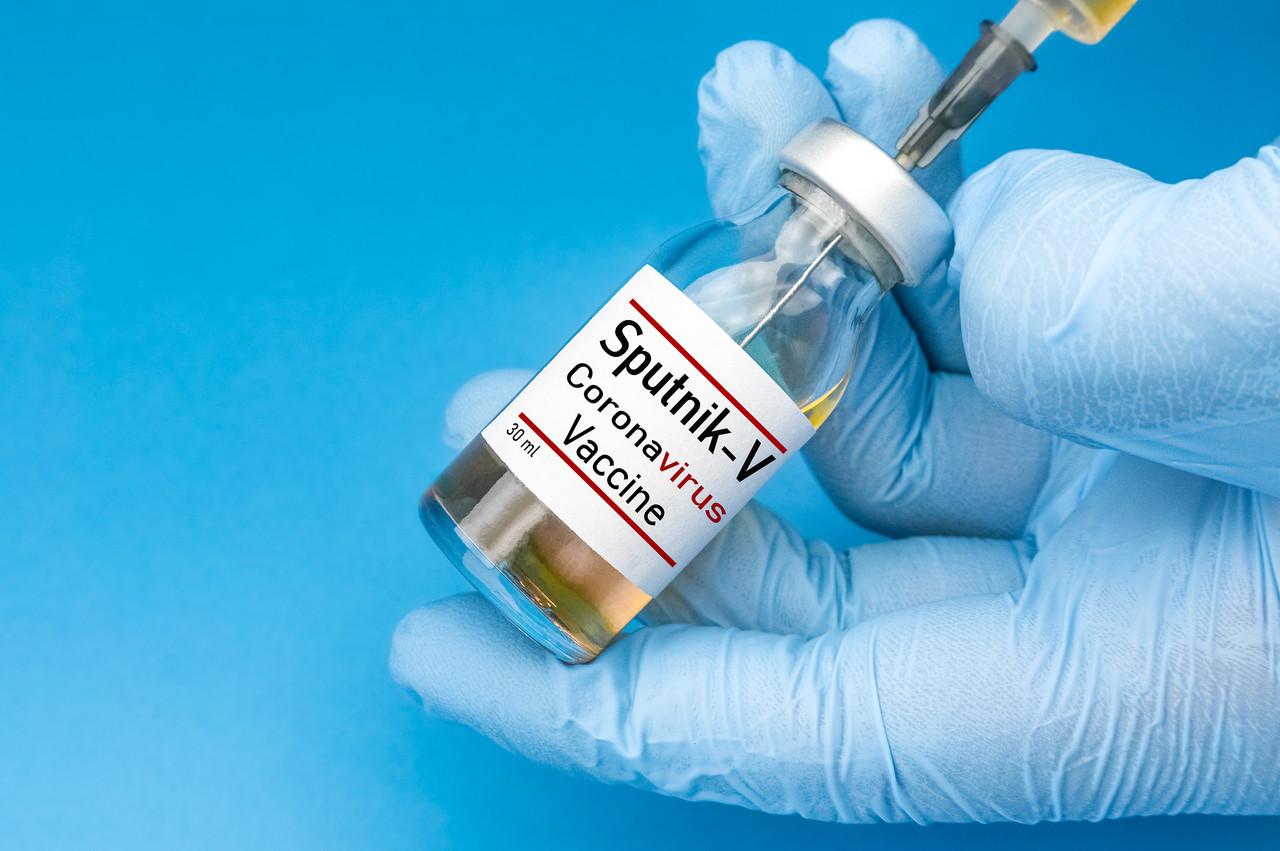
Publicado originalmente na revista de Ciência, Edição de 28 de abril
Na década de 1950, o mundo comemorava a primeira vacina para poliomielite. Na época, o medo da doença que matava ou deixava crianças paralíticas só perdia para o medo da bomba atômica. Os testes clínicos da vacina de Jonas Salk foram recebidos com alegria e alívio, finalmente uma esperança para controlar o tão temido vírus. Salk havia desenvolvido uma vacina de vírus inativado, a mesma tecnologia usada para a CoronaVac.
A vacina continha três linhagens do vírus da pólio, inativadas com formalina. O ensaio clínico da vacina Salk foi o primeiro grande ensaio clínico randomizado feito no chamado “padrão ouro” de testes clínicos: randomizado, duplo-cego e com grupo placebo. Envolveu mais de um milhão de participantes. O resultado mostrou que o risco de contrair a doença caía a um terço entre os vacinados.
Trinta e seis crianças desenvolveram pólio e precisaram ser colocadas nos “pulmões de aço”. Somente duas estavam no grupo vacinado. Dezesseis crianças morreram de pólio. Todas estavam no grupo placebo. A vacina era um sucesso.
Logo foram feitos acordos com três empresas para a produção em massa. Duas dessas, a Eli Lilly e a Parke-Davis, eram laboratórios experientes, e tinham sido as fabricantes da vacina para o teste clínico, mas o terceiro, o Laboratório Cutter, não era. E Jonas Salk não entregou instruções detalhadas de como inativar o vírus. As empresas receberam instruções genéricas, mas segundo o pediatra e especialista em vacinas Paul Offit, em seu livro “O Caso Cutter”, alguns “detalhes”, como o processo de filtragem, a quantidade máxima de partículas virais a serem inativadas, e o intervalos exatos a serem utilizados não foram incluídos nas instruções. Cada fábrica teve que “se virar” para fazer o processo.
O Laboratório Cutter, talvez por sua inexperiência, somada à falta de instruções detalhadas, liberou um lote “defeituoso”. Por uma falha no processo de inativação do vírus, o lote continha vírus vivos. Duzentas mil crianças do Oeste americano receberam a vacina. Destas, 40 mil desenvolveram pólio, 200 ficaram paralíticas e 10 morreram.
Isso foi há 70 anos, quando as condições de produção, fiscalização e aprovação de vacinas eram outras. Mas serve para ilustrar por que a inspeção de fábricas e processos industriais de vacinas e medicamentos não é frescura.
Sputnik V
De volta aos tempos atuais, a Anvisa negou o pedido de autorização emergencial da vacina russa Sputnik V, alegando, entre outros motivos, a falta de documentação oficial completa enviada pelo proponente, a falta de dados de partes dos ensaios pré-clínicos (em animais), a falta de dados de validação dos testes de imunogenicidade (capacidade da vacina de ativar o sistema imune), a falta de dados de controle de qualidade para ausência de contaminantes, e a falta dos dados brutos dos ensaios de eficácia de fase 3, sem os quais é impossível verificar a validade dos testes estatísticos utilizados.
A agência também afirma que não foi apresentado o critério de definição de casos para os testes clínicos. Lembre-se da confusão em torno da diferença de eficácia entre a CoronaVac e a vacina da AstraZeneca: parte da divergência foi causada pelos critérios heterogêneos usados nos testes para definir quais sintomas, e com que nível de intensidade, contariam como um “caso” de COVID-19 na hora de fazer a estatística. Sem essa definição clara, o cálculo de eficácia perde significado e credibilidade.
Para completar, não foi possível para a Anvisa obter dados de farmacovigilância dos países que já estão aplicando a vacina russa. O fator que chamou mais atenção da mídia, no entanto, foi a informação sobre a presença de adenovírus replicante na formulação.
As vacinas vetorizadas para COVID-19 usam um vírus diferente do SARS-CoV-2, o causador da doença, como um veículo para “carregar” a sequência genética de interesse para dentro das células humanas. Os adenovírus utilizados pela vacina Sputnik – Ad5 e Ad26 – são adenovírus humanos, que causam resfriados leves na maioria das pessoas. Raramente, no entanto, podem causar doença grave. Por isso em geral, para uso em vacinas, são geneticamente modificados para não serem capazes de se reproduzir em células humanas.
O vírus natural, ou “selvagem”, normalmente iria fazer um ciclo completo, infectando a célula, fazendo várias cópias de si mesmo, e partindo para infectar novas células. Ao deletar a região do genoma viral que é responsável pela replicação, impedimos essa cascata. O vírus, incapaz de se replicar, só consegue mesmo entrar na célula uma só vez, e deixar lá a sequência genética necessária para estimular o sistema imune do receptor a se preparar para receber o SARS-CoV-2, se algum dia ele chegar.
Ao deletar uma parte do genoma do vírus – chamada de “origem de replicação” –, os cientistas impedem que o vírus se replique em células humanas. Mas para produzir a vacina, precisamos replicar o vírus em grande quantidade. Como fazer isso, se a origem de replicação foi removida? Usamos células HEK, aquelas células de laboratório usadas para cultura de vírus, modificadas! Sim, modificamos as células também, para que elas então contenham a informação necessária para permitir a replicação do vírus. Isso supre a falta da origem de replicação, e garante que ele só vai conseguir se reproduzir nestas células especiais, mas não nas células humanas.
O problema é que esse sistema não é 100% livre de erros. Podem ocorrer eventos raros de recombinação entre o adenovírus modificado e o genoma da célula, e o vírus pode “readquirir” sua origem de replicação. Ele era um vírus não replicante, mas volta a ser. Isso acontece em um percentual dos vírus em cultivo, e existe um limite de segurança para a quantidade de vírus recombinantes que pode “sobrar” na vacina que será aplicada nas pessoas.
No caso da avaliação da Anvisa, o gerente de medicamentos, Gustavo Mendes, alertou que, no relatório recebido, os níveis de adenovírus replicante estavam acima do permitido por regulamentação internacional, e que a presença de adenovírus replicantes nesta quantidade comprometia a qualidade da vacina. Ele também alerta para o fato de que a documentação fornecida pelo fabricante permite uma quantidade de vírus replicante cem vezes maior do que a permitida pela agência regulatória americana (FDA). Ou seja, para o fabricante, não há problema em ter uma grande quantidade de vírus replicante nas vacinas.
De fato, todos os testes, desde os pré-clínicos, em animais, até os clínicos, em humanos, foram feitos para um vírus não replicante. Pode ser que não haja problema em usar um replicante. Do ponto de vista provocar resposta imune, pode até ser uma estratégia interessante. Mas se o objetivo é fazer uma vacina de vírus replicante, então que se desenhem testes clínicos para segurança e eficácia de uma vacina replicante. O que não pode fazer é testar um adenovírus não replicante, fabricar uma vacina não replicante, e admitir contaminação com vírus replicante que nunca foi testado.
Existem testes de triagem para saber a quantidade de vírus recombinante na formulação final, e existem justamente para garantir a qualidade das amostras.
Para resolver este impasse, o proponente pode tomar as medidas necessárias para melhorar a qualidade, e ressubmeter o pedido, ou pode admitir que sua vacina é de vírus replicante, e fazer os testes de segurança adequados, começando por animais, medindo a permanência do adenovírus replicante no organismo, sua bioacumulação em tecidos, toxicidade, etc.
Mas a Anvisa não pode liberar uma vacina que contém um componente não testado, para o qual não podemos atestar segurança. Não sabemos quais efeitos uma vacina de vírus replicante pode ter no organismo. Pode ser perfeitamente segura, mas também pode não ser. Só saberemos testando, como testamos todas as outras.
Lembrando também que o adenovírus replicante não foi a única falha apontada pela Anvisa. É preciso permitir a inspeção de fábrica, reenviar a documentação de imunogenicidade, de toxicidade e segurança para faixas etárias, os testes em animais que estavam faltando, enfim, cumprir as exigências da Anvisa, assim como todas as outras vacinas cumpriram.
Se todos os requisitos da agência regulatória forem atendidos, não há razão para que a vacina não seja aprovada. E juntar toda essa documentação é certamente um uso mais racional do tempo da equipe Sputnik V do que criar polêmica e politizar as redes sociais.
Conspirações e números
O Laboratório Gamaleya e o Fundo Soberano Russo reagiram com violência à decisão da Anvisa, acusando, sem provas, a agência de distorcer dados e atuar politicamente para prejudicar a Sputnik V.
Boatos de que o governo dos Estados Unidos estaria interessado em evitar que o governo russo ganhe prestígio na América Latina por meio da vacina circulam pelo menos desde que a conta em inglês no Twitter da Sputnik V divulgou, em março, um relatório sobre ações do governo de Donald Trump que citava, como exemplo de atitude adotada em 2020, “persuadir o governo brasileiro a rejeitar a vacina russa para COVID-19”. O assunto virou notícia, por exemplo, no jornal The Washington Post, que entrevistou autoridades americanas e brasileiras. Os entrevistados negaram qualquer tipo de influência.
É importante notar que o relatório descreve ações supostamente adotadas durante a administração de Donald Trump, no ano passado. Trump perdeu a disputa pela reeleição, e já neste ano de 2021 o governo federal brasileiro manifestou interesse na Sputnik V. Se pressão houve, a despeito das negativas oficiais, não existe evidência de que siga sendo exercida agora, no mandato de Joe Biden – ou que o governo brasileiro esteja disposto a acatá-la. Muito antes pelo contrário: a fabricante da Sputnik V no Brasil, União Química, tem notórios laços com parlamentares da base de apoio de Jair Bolsonaro.
Ao mesmo tempo em que os responsáveis pela Sputnik V lançavam suas acusações, na mídia e nas redes sociais, contra a lisura da Anvisa, o pesquisador americano Carl T. Bergstrom, autor de um livro sobre o mau uso de dados científicos para enganar o público – intitulado “Calling Bullshit” – denunciava manobras desonestas da conta em inglês da vacina russa no Twitter, incluindo manipulação de dados públicos para sugerir, falsamente, que a vacina da Pfizer seria perigosa.
A nota publicada em português, em resposta à decisão da Anvisa, comete pecados muito parecidos aos denunciados por Bergstrom na conta americana: o documento vem ilustrado por tabelas que sugerem que a Sputnik V é a mais segura das vacinas aplicadas na Hungria, México e Argentina.
Mas as tabelas publicadas não apresentam dados cruciais – por exemplo, quando cada vacina começou a ser usada em cada país (vacinas que passaram a ser usadas mais tarde talvez ainda não tenham tido tempo de acumular eventos adversos) ou o perfil de aplicação (vacinas aplicadas preferencialmente em idosos terão mais casos de pacientes de suspeita de eventos adversos, simplesmente porque a saúde dos idosos é mais frágil).
O ataque à Anvisa parece seguir um padrão estabelecido: a União Europeia acaba de acusar o governo em Moscou de disseminar desinformação para tentar minar a credibilidade das agências de vigilância sanitária do Ocidente, a fim de facilitar a venda do produto russo.
__________________________________________________
Natalia Pasternak – é microbiologista, pesquisadora associada do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, presidente do Instituto Questão de Ciência, membro do Committee for Skeptical Inquiry, professora visitante da Fundação Getúlio Vargas (FGV), colunista do jornal O Globo e coautora do livro “Ciência no Cotidiano” (Editora Contexto)
_________________
 Carlos Orsi – é jornalista, editor-chefe da Revista Questão de Ciência e coautor do livro “Ciência no Cotidiano” (Editora Contexto)
Carlos Orsi – é jornalista, editor-chefe da Revista Questão de Ciência e coautor do livro “Ciência no Cotidiano” (Editora Contexto)
